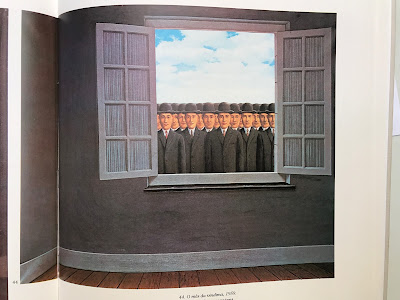Quem tem medo do “Pequeno
Príncipe”?
Rodrigo
Suzuki Cintra
Quando
ele chegou, eu já estava ali escondida no fundo da sala. Os outros se
esparramavam pelas outras cadeiras e, sem me ver, ele começou a se arrumar lá
na frente para iniciar aquela espécie de homilia particular que inventou para
si e que apelidou formalmente de “aula”. No limite, uma espécie de masturbação
verbal que é exercida por homens cultos quando querem demonstrar poder pela razão.
Minha
presença era mais do que justa. Era até sagrada se ele levasse a sério tudo que
dizia quando afirmava que uma lição é um evento público e, depois daquelas duas
semanas que se recusou a falar comigo, também era um direito meu que ele
vislumbrasse meu aparecimento repentino em sua vida. No fundo mesmo, sabia que
ele ia amar me ver e que suas esquivas faziam parte do incompreensível jeito de
ser desses homens que, sobretudo, cheiram a masculinidades maiores a todo
tempo. Truque de pirata.
Esperei
começar a fala para me levantar e sentar na primeira fileira. Andei devagar
para que ele pudesse admirar o meu corpo enquanto caminhava, pois estava usando
o vestido preto de sempre e tenho certeza que quando ele viu a cena deve ter
sentido um pouco de tesão. Não existe outra opção de olhar para as mulheres
andando se o olhar é de um tarado, afinal de contas. Pois, eu sempre tive
certeza absoluta que quando ele olhava para qualquer mulher, tinha vontades
sexuais reprimidas. E quando ele negava essa conduta de machinho, percebia mais
ainda o cinismo daquele sujeito.
Tudo
bem que ele não hesitou no discurso quando me viu ali, uns 7 metros de
distância, mas ficava esperando que ele gaguejasse a todo momento. Eu bem que
ia gostar disso. Por alguns instantes, pensei que por causa de nossa intensa
paixão pregressa, ele fosse desistir da importância de falar sobre qualquer
outra coisa programada para a aula e começasse a falar comigo diretamente. Em
público seria melhor ainda porque eu tinha muita coisa a dizer para aquele
homem ridículo e todo mundo precisava saber o quanto ele me fez mal. Talvez
fosse uma boa ideia insistir naquela conversa que ele estava obrigado a ter
comigo, que ele me devia enquanto uma mulher que tem o que dizer, alguém que
sabe o que quer e tem o direito de se expressar. Estava disposta a ter essa
última discussão, a qualquer custo. Os telefonemas que eu fazia na madrugada e
as andanças pela vizinhança dele não estavam surtindo efeito. Ele nunca atende
o celular e quase sempre está fora de casa.
Como
suspeitei, ele havia deixado a pasta de trabalho na primeira fileira, perto de
mim. Esse tipo de homem confiante jamais suspeita que seus ex-alunos de tempos
longínquos vão entrar na aula e abrir a sua surrada pasta de couro marrom.
Lembrei que era a mesma ingenuidade que ostentou quando não percebeu que abri a
terceira gaveta da escrivaninha da casa dele enquanto ele dormia, às 3h da
madrugada, aquela que ele cuidava com segurança e não queria que ninguém
abrisse. Nada me impede de fazer o que eu quero e era altamente suspeito
existir um lugar particular interditado para mim na casa dele.
Que
espécie de segredo esse cara podia esconder?
Meu
presente estava embrulhado em papel azul e a fita era rosa. Conheço o homem e
sei que gostaria dessa estética. Coloquei dentro da pasta, lá no fundo, quando
ele se virou inocentemente para a lousa. Era uma edição de luxo de “O Pequeno
Príncipe”. Ele não tinha a obra no meio daquela biblioteca infinita e era
culpado, obviamente, de não ter lido um clássico incontornável.
Esse
recado ele teria que aceitar, ah, se teria!
Levantei
e estava quase abrindo a porta quando escutei no meio do palavrório dele uma
palavra solta: “princesa”. Ele deve ter percebido que eu ia sair e quis me
lisonjear, tenho certeza. Olhei para trás e ele estava de novo virado para lousa.
Abri a porta com som e fúria, demorei uns segundos por ali. Tenho certeza que
ele me olhou e admirou, deve ter sentido uma baita saudade da minha bunda, só
pode ser. Conheço o homem, fiquei com ele direto por sete semanas. E aprendi
direitinho quando ele disse, certa vez, que existe toda uma eternidade dentro
de um segundo.